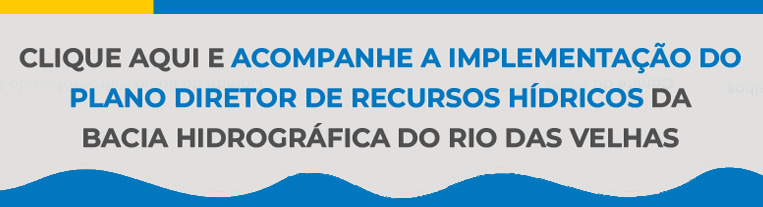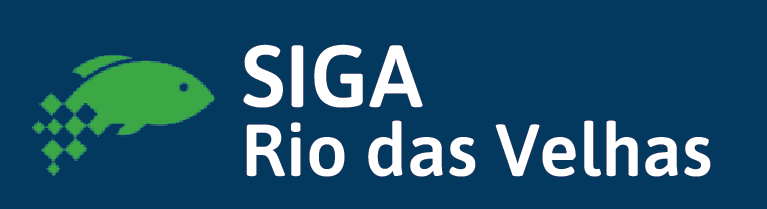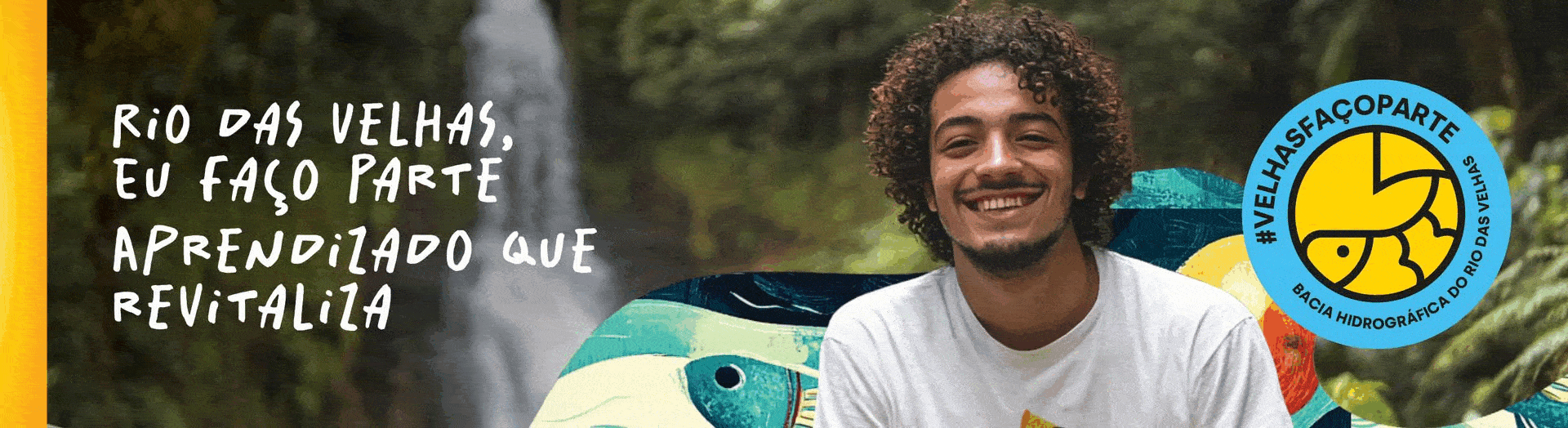Mais de 97% de toda a água doce líquida do planeta é subterrânea, mas a exploração descontrolada vem dilapidando essa joia preciosa. Recarga Gerenciada de Aquíferos pode contribuir para reequilibrar o balanço hídrico.
No final de 2024, a Câmara Normativa e Recursal (CNR) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) aprovou Minuta de Deliberação com diretrizes, critérios e procedimentos a serem seguidos por empreendedores que lançam mão do método de “Recarga Artificial” de aquíferos.
A norma, que pretende trazer mais segurança técnica e jurídica à matéria no estado de Minas Gerais, é um primeiro passo para um assunto ainda incipiente no Brasil, mas relativamente antigo no planeta.
A ideia de reter a água, permitindo que ela se infiltre no solo em lugar de escorrer rapidamente é, aliás, quase tão velha quanto a civilização. Os Incas e mesmo povos pré-incaicos, em territórios de elevadíssima declividade, construíam terraços e muros de pedra para segurar a água e aumentar o tempo de infiltração.
A ocupação humana desregulada em várias partes da Europa já colocava na mesa a questão da queda acentuada de vazões desde os anos de 1870, gerando problemas de abastecimento para muitas cidades. O primeiro projeto de recarga de aquíferos da Idade Contemporânea nasceu na Alemanha. “Deu tão certo que se espalhou pelo mundo”, conta Luiz Alberto Diniz, engenheiro civil. Lidando com obras de engenharia até em Moçambique e Angola, Diniz tinha permanentemente “um antagonista”: “a água, principalmente na época das chuvas”. Em 2014, passou a estudar o assunto, acompanhando as inundações urbanas. Três anos depois, fundou a Águas do Futuro, consultoria em projetos contra inundações e recuperação de vazões.
Outra especialista sobre o tema é Gisele Kimura, geóloga e sócia da empresa Hidrovia, de consultoria em hidrogeologia. Ela lembra que ainda “estamos engatinhando no Brasil” nessa área e cita o projeto de recarga “nas termas de Caldas Novas [que em pouco mais de 15 anos já teria recomposto cerca de 40% do volume original e teve a participação de Diniz e do especialista alemão Uwe Tröger] ou projetos-piloto no Nordeste” [com barragens subterrâneas no leito dos rios – em geral intermitentes – promovendo uma recarga dos aquíferos aluvionares]. Tudo, porém, “ainda em pequena escala”.

Em muitas regiões, águas subterrâneas são fontes importantes de irrigação para a agricultura, mas podem ser contaminadas por pesticidas e nitratos.
Bem escasso
De toda a água doce líquida disponível no mundo, que não passa de 2,5% do total, mais de 97% está debaixo da terra e, segundo a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), fornece atualmente metade do volume de água captada para uso doméstico e cerca de 25% de toda a água utilizada para irrigação. Estudo publicado pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) revela que algo como 24% das vazões dos rios brasileiros – vazão média anual de 179.433 m³/s – e 49% das vazões mínimas são provenientes das águas subterrâneas. Soma-se a isso o fato de que, somente no estado de São Paulo, 80% dos municípios, uma população de mais de 5,5 milhões de habitantes, são total ou parcialmente abastecidos por águas subterrâneas.
A superexplotação desse recurso precioso tem provocado sérios impactos ao meio ambiente em diversas regiões do mundo. Os efeitos vêm sendo medidos por “tecnologias muito sofisticadas”, explica Kimura, como as empregadas “pelo projeto Grace, da Nasa”, e mostram um “ritmo preocupante de deplecionamento” dos aquíferos.
Lá em 2004, André Negrão de Moura, então doutorando pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, apontava que uma região “como o norte da China, onde vivem 550 milhões de pessoas e é responsável por dois terços da produção agrícola chinesa, tem apenas um quinto da água disponível no país, enfrentando grave escassez de água subterrânea”. O estudo sustentava que o “aquífero que se estende da região do norte de Xangai até o norte de Beijing declina a uma taxa média de 1,5 m/ano, e o lençol freático sob Beijing baixou 2,5 metros só em 1999, acumulando um declínio de aproximadamente 59 metros desde 1965”!
Nesse contexto, faz-se urgente recompor os estoques de água subterrânea, seja para garantir o fornecimento futuro de água, preservar as funções ecossistêmicas dos aquíferos, prevenir os problemas causados pela subsidência do solo [afundamento abrupto ou gradativo], controlar a intrusão salina ou aliviar os problemas de drenagem urbana, entre outras virtudes.
Hoje, com a evolução do termo e das técnicas, o método mais promissor para enfrentar esse desafio é a chamada Recarga Gerenciada de Aquíferos (RGA ou ReGA). Segundo Kimura, trata-se de “mimetizar os processos naturais, potencializando a infiltração de água da chuva”.
Normatização
Em Minas, de acordo com Gerson de Araújo Filho, engenheiro metalurgista e servidor da Gerência de Regulação de Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), foi criado um Grupo de Trabalho ainda em 2021, reunindo SEMAD (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), instituições convidadas e especialistas do Brasil, como Luiz Alberto Diniz, e do exterior, como Uwe Tröger, com a missão de elaborar norma a respeito, processo do qual emergiu, em outubro de 2024, a minuta mencionada.
Para Diniz, “precisamos de normas que regulem. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos [CNRH], editou portaria em 2013 regulando a aplicação da recarga artificial, mas com duas normas absurdas: estabeleceu que a recarga poderia ser utilizada ‘se houvesse interesse do investidor’”, e requeria “aprovação do órgão de cada estado, só que o IGAM não tinha expertise e, portanto, não tinha como aprovar”.
“Na Alemanha”, completa Diniz, “só autorizam mineração se houver projeto de recarga. Até para construir uma casa tem que apresentar projeto de recarga artificial com água da chuva”.


Servidor do IGAM, Gerson de Araújo Filho (esq.) destaca o gradativo avanço no monitoramento das águas subterrâneas em Minas. Mineração usualmente bombeia água do lençol freático para a superfície, o que pode contribuir para o rebaixamento do aquífero. À direita, a Mina de Fábrica, em Ouro Preto, no Alto Velhas.
Qualidade e quantidade
O monitoramento qualiquantitativo das águas subterrâneas no estado foi iniciado em 2005, pela Região Norte, e vem sendo gradativamente expandido pelo IGAM para outras regiões e aquíferos, informa Araújo. Em 2009, alcançou o Aquífero Guarani. Em 2015, a bacia do Rio das Velhas. O monitoramento de qualidade “é realizado em 126 pontos de água subterrânea, dentre poços e nascentes”, e o de quantidade “em 29 poços, apenas nas redes Guarani e Norte de Minas”.
O técnico do IGAM acrescenta: “No monitoramento da qualidade das águas subterrâneas são analisados 69 parâmetros físico-químicos, com frequência semestral de coletas para a bacia do Velhas, Norte de Minas e demais regiões do PANM [Projeto Águas do Norte de Minas, que abrange ainda o Nordeste e Noroeste do estado], e anual para o Aquífero Guarani.”
A geóloga Kimura destaca que “Minas tem grande diversidade, regiões com ótima capacidade de reservação, como a bacia do São Francisco e suas rochas calcárias, carbonáticas, onde a água da chuva dissolve a rocha e forma grandes condutos, cavidades com enorme capacidade de armazenar, mas onde qualquer fonte de contaminação também chega rapidamente”.

Gisele Kimura, geóloga, ressalta a ótima capacidade de reservação da bacia do Rio São Francisco, com suas rochas calcárias e
carbonáticas, onde se formam grandes condutos para as águas.
Riscos
São muitos os desafios – e os riscos – para se garantir o suprimento futuro de água subterrânea. Araújo adverte contra “a chamada recarga acidental, como a incorreta disposição de efluentes, por exemplo fossas sépticas em que a água percola, infiltração de aterros sanitários, campos excessivamente irrigados, a fertirrigação, o escoamento superficial de áreas urbanas ou a ruptura de sistemas de esgoto” como alguns dos perigos a rondar.
A implementação da RGA requer estudo detalhado das condições locais, considerando as características hidrogeológicas, a qualidade da água a ser utilizada e as reações químicas que podem ocorrer quando a água é injetada nos aquíferos. Por isso, entender a estrutura, a composição mineralógica e a capacidade de armazenamento do aquífero é crucial.
Cidades como Perth, na Austrália, e Orange County, nos EUA, têm utilizado água servida e tratada para recarregar seus aquíferos. Cingapura também adota essa prática, enquanto a Cidade do Cabo, na África do Sul, implementou projetos semelhantes para enfrentar a escassez de água e melhorar a resiliência hídrica.
Recargas, mesmo gerenciadas, podem virar um grande problema. Estados Unidos e Israel, por exemplo, utilizam efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitário (ESTES) no processo há várias décadas. Consta que os estudos epidemiológicos realizados até agora não evidenciaram relação entre o consumo de água captada em aquíferos recarregados com ESTES e o incremento da ocorrência de doenças. No entanto, “tais estudos detectam com segurança somente as doenças de maior incidência”, alerta o já citado trabalho de 2004, de André Negrão de Moura.
Itabirito
Aqui mesmo no Alto Rio das Velhas tentou-se, há alguns anos, colocar em prática um projeto de recarga gerenciada, no caso do Aquífero Cauê. Gisele Kimura foi uma das consultoras à época: “Face à explotação intensa de água subterrânea no distrito industrial que abriga a fábrica da Coca-Cola, em Itabirito, propusemos aumento de recarga e de vazão das nascentes do outro lado da Serra da Moeda. Era uma situação super favorável. Virou até recomendação para renovação de outorga”, mas não prosperou. Kimura observa: “Não desistimos da ideia, estamos buscando alternativas”.
A região enfrenta situação muito sensível. Luiz Alberto Diniz detalha: “O CSul [projeto habitacional previsto para abrigar mais de 100 mil pessoas] e 72 novos condomínios que estavam em projeto dois anos atrás em Nova Lima” vão tirar água do aquífero, e aí “vai faltar no Velhas”.
Todo o Quadrilátero Ferrífero – também chamado de Aquífero – enfrenta ainda os rebaixamentos de lençol freático, riscos de contaminação por minerais pesados e, pendente sobre a cabeça, a espada aguda e permanente de possíveis novos rompimentos de barragens de rejeitos, como os ocorridos em Mariana e Brumadinho.
Para Diniz, a “situação do Velhas é preocupante. Em 2014, houve uma crise grave; o Velhas quase secou. Ele continua condenado e pode passar a ser intermitente em pouco tempo”. E dispara: “Proteger nascente não basta. Não adianta cuidar da torneira se não cuidar da caixa d’água”.

Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas:
TantoExpresso Comunicação e Mobilização Social
Texto: Paulo Barcala